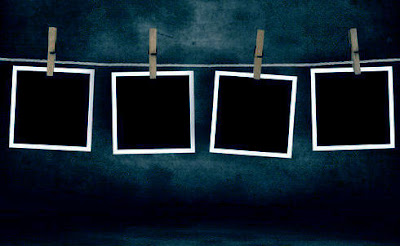A
“Justiça gratuita” concedida pelo juiz é apenas uma decisão provisória, a qual
dispensa o requerente de adiantar as custas para facilitar o acesso ao
Judiciário, mas ao final do processo deve-se calcular as custas devidas pelo
perdedor e intimá-lo para pagar, inclusive honorários de sucumbência, sendo
erro técnico quando o juiz deixa de “condenar em custas e honorários por se
tratar de Justiça gratuita”, pois não pode deixar de condenar, em razão de que
o Estado tem o prazo de cinco anos após o final do processo para provar que o
perdedor da demanda tem condições de pagar custas, despesas, emolumentos e
honorários, nos termos do artigo 12 da Lei n° 1.060/50.
Outrossim,
a Constituição Federal exige no artigo 5º, a comprovação da carência econômica
para fins de assistência jurídica gratuita: 'LXXIV - o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos".
Este é um dos maiores problemas atuais, embora
pouco discutido com efetividade, "Justiça gratuita". Em razão da
gratuidade vive-se uma epidemia de processos e aventuras jurídicas. Vamos
tratar de forma genérica o conceito de “Justiça gratuita”.
O
discurso dominante é aparentemente para ajudar os mais pobres, mas na prática
acaba beneficiando os prestadores de serviço, os quais recebem milhões de reais
anualmente, além de um custo oculto em razão de o Estado não receber as custas
e ter que aumentar a estrutura judicial para dar resposta ao serviço.
Gasta-se
mais com “Justiça gratuita” do que com bolsa-família, mas não há transferência
de renda, pois divide-se para “cima” e os prestadores do serviço ficam brigando
para ver quem recebe mais verba e nem se sabe quem é o suposto público carente
a ser beneficiado.
Também
em virtude da benevolência judicial na concessão da Justiça gratuita não há
estímulo aos acordos judiciais e nem mesmo extrajudiciais. O curioso que é nos
cartórios extrajudiciais menos de 20% são da Justiça gratuita, enquanto nos
cartórios judiciais mais de 80% dos processos são com Justiça gratuita. Ou
seja, há um paradoxo, ou temos dois tipos de pobres, uma vez que os dois
setores submetidos ao Judiciário adotam critérios diferentes. O pobre no
sistema judicial não é pobre nos cartórios extrajudiciais.
Na
prática prevalece o assistencialismo jurídico que beneficia empresários,
advogados, juízes, dentistas, médicos, engenheiros e outros setores da classe
privilegiada com concessão de justiça gratuita.
Não
há uma análise efetiva do beneficiado, nem do custo, tudo é com base na
retórica.
Para
justificar esta situação alegam que a Lei 1.060-50 exige apenas a declaração
para gratuidade judicial e fundamentam ainda que “assistência jurídica” é
diferente de “assistência judiciária”, uma ginástica retórica contorcionista.
Afinal, a Constituição Federal trouxe um termo mais amplo, caso contrário seria
o mesmo que dizer que assistência judiciária (isenção de custas) não tem
previsão constitucional e pode ser revogada.
Nesse
ínterim também confundem acesso ao Judiciário com a mera “entrada” e não se
preocupam com a saída. E defendem o acesso ao Judiciário como a única via para
resolução de conflitos, tanto que não existem estruturas estatais organizadas
para mediação ou conciliação extrajudicial, nem os cargos estruturados de
conciliadores.
A
“assistência jurídica” ou “Justiça gratuita” deveria ser uma política pública
com vários atores prestando o serviço e prestando contas. Mas, ocorre
justamente o contrário, ou seja, disputa por monopólios.
Até
mesmo a Defensoria deve comprovar a carência econômica dos seus clientes, nos
termos da Constituição Federal, mas não o faz: "Artigo 134 - A Defensoria
Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos
necessitados, na forma do artigo 5º, LXXIV [o qual exige comprovação de
carência econômica e não apenas alegação]."
Inclusive
o artigo 1º da LC 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria) passou a fazer referência
expressa à aplicação da exigência constitucional, com a alteração definida pela
LC 123/09 para que comprovem a carência econômica do cliente: "Artigo 1º
(...) assim considerados na forma do inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição
Federal".
Alguns
juízes ainda acreditam que o Defensor Público tenha uma espécie de “fé pública”
para dizer se o seu cliente é pobre ou não, mesmo sem procuração com poderes
especiais ou declaração do mesmo. Na verdade, o Defensor Público não tem esta
“fé pública” e nem se pode presumir que o cliente é carente, pois a própria lei
exige que se comprove a carência econômica. E isto para evitar um desvio muito
comum que é atender pessoas que poderiam pagar um advogado e uma espécie de
desvio de função e recurso público.
Ademais,
não faz sentido que a Defensoria alegue que o Estado somente pode prestar
assistência jurídica aos carentes através da mesma, porém, a mesma não tenha critério
para comprovar que atende os carentes, os quais ficariam duplamente
prejudicados, pois reféns de uma instituição e ao mesmo, vítimas do desvio de
finalidade.
Contudo,
nos termos da Lei n° 1.060/50 o conceito de pobre é indefinido e permite
abusos: "Artigo 2º. Parágrafo único - Considera-se necessitado, para os
fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família."
Ora,
como é que alguém vai saber se pode pagar as custas do processo, se não sabe o
seu valor? Ora, como é que alguém vai saber se não pode pagar os honorários do
advogado (os contratuais ou os sucumbenciais)? Isto tudo sem provar nada? Não
pode pagar parceladamente?
As
inconsistências não param. Vejamos, a redação abaixo referente à mesma lei
1.060-50: "Artigo 4º A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família."
Mais
grave ainda, pois basta a simples afirmação, uma declaração. E agora, vem se
entendendo que pode ser feita pelo advogado no teor da petição inicial sem
procuração com poderes especiais. Ora, como é que o advogado pode dizer que o
seu cliente é pobre? E se o cliente estiver mentindo? Ou será apenas caso de um
engano? E o réu pede justiça gratuita como? Na contestação?
O
descaso com o erário é tão grande que não se cumpre o artigo 12 da citada lei:
"Artigo 12 - A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas
ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o
assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará
prescrita."
Entretanto,
o Judiciário não vem cumprindo a lei e não comunica à Fazenda Pública, ao final
do processo, os valores devidos pelo perdedor. Ora, a decisão de “Justiça
gratuita” concedida pelo juiz é uma decisão provisória, apenas para permitir o
acesso ao Judiciário, mas não é definitiva como se imagina. Logo, o Estado tem
o prazo de cinco anos para provar que o beneficiado perdedor tem condições de
pagar e efetuar a cobrança.
Outra
questão que não fica muito clara é no tocante aos honorários de sucumbência
devidos pelo devedor. Em tese, estes pertencem ao advogado do vencedor, logo
deveria este também ter o prazo de cinco anos ao final para cobrar os mesmos do
perdedor, se este tiver condições.
O
fato de não se ter um critério objetivo para se definir o que é pobre, não
dispensa da necessidade de argumentar por qual motivo considera-se pobre,
inclusive informando renda e mostrando de fato as despesas processuais que
teria, pois atualmente é tudo feito genericamente em duas linhas e bilhões de
reais são perdidos em milhões de processos e pedidos de Justiça gratuita.
Quando
o artigo 3º da Lei 1.060/50 fala em gratuidade de honorários não abrange os
contratuais, conforme recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, os quais
devem ser pagos ao final do processo, se o cliente for vencedor. Mas, a dúvida
permanece no tocante aos honorários de sucumbência. Contudo, o objetivo da lei
foi permitir o acesso ao Judiciário, logo observa-se que ao final do processo
poderão ser cobrados pelo advogado da parte vencedora os honorários de sucumbência, se no prazo de
cinco anos ficar comprovado que o perdedor tem condições de pagar, inclusive
mediante a via do uso do protesto fiscal.
Nesse
sentido, cita-se o artigo 19 do CPC: "Artigo 19 - Salvo as disposições
concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que
realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início
até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito
declarado pela sentença".
Ou
seja, a “Justiça gratuita” concedida pelo juiz apenas dispensa o requerente de
adiantar as custas. Afinal,no processo judicial a regra é adiantar as custas e
despesas, e não pagar ao final. Isto é,
ao final do processo se quem adiantou as custas, vencer a demanda, apenas seria
ressarcido pelo perdedor. Se for o próprio perdedor que adiantou, então já
teria pago e ficaria apenas com a obrigação de recolher alguma verba
complementar conforme cálculo.
O
juiz não é autoridade tributária com autorização para “isentar” as pessoas de
pagarem as custas. Apenas, dispensa o adiantamento, mas não o pagamento ao
final.
Além
disso, em caso de Justiça gratuita devem os juízes, ao final fixarem os
honorários de sucumbência, portanto não podem usar a praxe de “deixo de fixar
honorários e custas em razão da gratuidade judicial”, sendo que devem remeter autos para a Contadoria a fim de
calcular as custas e outras despesas, intimando-se o perdedor para pagar em
prazo judicial e se este não o fizer, os autos serão arquivados, mas remetida
Certidão de Custas Não Pagas à Fazenda Pública, para cobrar no prazo de cinco
anos se provar que o devedor/perdedor tem condições.
Em
suma, tanto o defensor público, como o advogado privado devem comprovar a
carência do cliente para obter a Justiça gratuita, a qual é uma decisão
provisória para se ter acesso ao Judiciário. No caso específico do Defensor
Público, conforme artigo 1º, da LC 80/94, e no próprio artigo 134 da
Constituição Federal, é obrigado a comprovar a carência do cliente. De fato, a
obrigação para o defensor público comprovar a carência do seu cliente é maior
que a do advogado privado, pois a obrigação de servidor público com o erário
exsurge maior do que a advocacia privada.
Por
fim, independente da comprovação não pode o juiz deixar de fixar a obrigação de
pagar custas e honorários ao final do processo, nem mesmo pode suspender a
obrigação de quitar, pois o Estado tem o prazo de cinco anos para comprovar que
o perdedor da demanda tem condições de pagar as custas e honorários, conforme
artigo 12 da Lei 1.060/50, pois a “Justiça gratuita” concedida foi uma decisão
provisória e condicionada ao prazo do artigo 12 da Lei 1.060/50,logo o juiz
deve fixar a obrigação de pagar estes valores na sentença, os quais serão
calculados pela Contadoria e se não quitados deve remeter a Certidão de Não
Pagamento à Fazenda Pública, a qual tem o prazo de cinco anos para comprovar a
capacidade financeira do devedor e cobrar pelos meios legais.
Por
André Luís Alves de Melo
Fonte
Consultor Jurídico